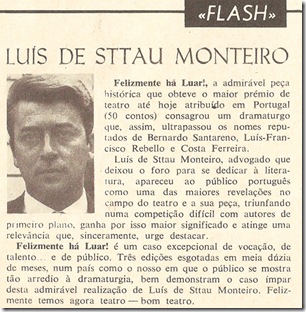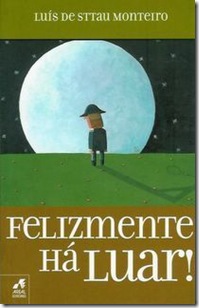No âmbito da disciplina de Português, foi nos proposto a elaboração de um trabalho sobre a obra Memorial do Convento. De entre os temas sob os quais nos foram apresentados, a nossa opção incidiu sob Linguagem e estilo em Memorial do Convento.

A escrita de José Saramago é caracterizada por um estilo distinto, próprio e irreverente começando de pela falta de numeração dos capítulos, separados apenas por um espaço em branco. Apresenta também algumas dificuldades de compreensão, entendido que, se torna complicado compreender a que personagens pertencem as diferentes falas, dado que estas são apenas separadas por vírgulas, sendo a o início de cada fala marcado pelo uso de letra maiúscula, em vez de serem utilizados aspas e travessões. Além disso, as falas são frequentemente interrompidas por comentários do narrador.
Ao longo do trabalho serão descritos a linguagem e o estilo utilizados por José Saramago em Memorial do Convento e os seus aspectos próprios, como os recursos estilísticos, registo de língua, vocabulário, entre outros
Este romance está repleto de recursos estilísticos, que o autor usou para enriquecer o seu discurso.
Ao longo do trabalho é possível verificar um estilo e uma linguagem que se desenvolve fora dos modelos convencionais. Inicialmente, a leitura da obra pode parecer complicada, mas, com a continuação, visa tornar-se mais simples.
Saramago, com a sua escrita, consegue criar um ritmo de escrita próximo da poesia, conseguindo associar diferentes figuras de estilo, produzindo uma nova forma de utilizar a pontuação, recorrendo a marcas características do discurso oral, construindo efeitos irónicos, sarcásticos e humorísticos e entrelaçando o seu discurso com outros discursos literários.
Podemos ainda dizer que a ironia, é o recurso privilegiado e que apresenta uma relevante importância no âmbito da crítica social, política e religiosa. Por último e não menos importante é de destacar a marca de estilo do autor, a peculiar forma de utilizar a pontuação.
“O autor , na linha da inovação e no caminho da subversão, consegue criar um ritmo de escrita que lembra a poesia, conjugando enumeração, comparação e metáfora, introduzindo aforismos, provérbios e ditados, recriando o uso da pontuação, usando marcas do discurso oral, construindo efeitos irónicos e humorísticos e entrelaçando o seu discurso com outros discursos literários (como o de Camões, padre António Vieira, Fernando Pessoa e outros) e jogos de conceitos típicos do Barroco.”
Adaptado de: http://www.ipv.pt/millenium/pers12_sar.htm
A primeira impressão que se tem ao ler um texto de Saramago é que o seu estilo, a sua linguagem brotam de uma forma intempestiva, subvertendo as regras tradicionais. A linguagem de Saramago reinventa a escrita, combinando características do discurso literário com o discurso oral, construindo uma narrativa marcada por uma cumplicidade, uma espécie de «amena cavaqueira» entre o narrador e o narratário.
Nível/Níveis de Língua
Não usamos uniformemente a língua, antes a adaptamos às circunstâncias e às pessoas com quem queremos comunicar. Assim a utilização da língua pelos diferentes falantes depende de vários factores: geográficos, etários, culturais, socioeconómicos, profissionais, situacionais entre muitos outros.
No Memorial do Convento existem diversas personagens que formam dois grupos opostos: A aristocracia e o alto clero representam o grupo do poder, enquanto o povo e os oprimidos representam o grupo do contrapoder. Apesar disto podemos constatar, até nos dias de hoje, que um registo mais popular não é exclusivo deste sector da sociedade.
Ao longo da obra podemos considerar três diferentes níveis de língua interpretados pelas personagens:
– Popular - A língua popular é muito simples, sem palavras eruditas e desvia-se da norma, quer na fala, quer na escrita. As características da língua popular variam com as regiões do país (Regionalismos) e com os diferentes tipos sociais (Gírias e Calão).
· Regionalismos ou provincianismos
São registos de língua próprios da população que habita as aldeias mais afastadas dos centros urbanos, distinguindo-se da língua da cidade pelo léxico, pronúncia, sintaxe e até pela semântica (certas palavras têm significado diferente do das populações citadinas).
· Gírias
São linguagem própria de certos grupos sociais, de certas profissões (pedreiros, peixeiras, pescadores, militares, estudantes, etc.) que usam um vocabulário próprio, geralmente com a finalidade de não serem compreendidos por indivíduos estranhos ao seu grupo. Dentro das gírias podem incluir-se o calão, um linguajar considerado grosseiro, próprio dos rapazes vadios, ciganos, salteadores, contrabandistas, etc. (originária de extractos sociais marginalizados, de ambientes miseráveis, onde a acção educativa dificilmente penetra).
Exemplo: "Queres tu dizer na tua que a merda é dinheiro, Não, majestade, é o dinheiro que é merda";
– Familiar – É uma língua simples, quer no vocabulário, quer na elaboração sintáctica, não distando muito da língua padrão. O tom coloquial da língua familiar dá-nos a impressão de que o emissor é nosso conhecido, aproximando-se da linguagem oralizante. As crónicas jornalísticas, pelo seu tom de conversa despreocupada, e as cartas, pela sua simplicidade e tom coloquial, reflectem quase sempre este nível de língua.
Exemplo: "correram o reino de ponta a ponta e não os apanharam";
– Cuidada – A língua que encontramos nos discursos parlamentares, nas conferências, nos ensaios, nos artigos de critica literária, etc., é, geralmente, língua cuidada.
Caracteriza-se por um vocabulário mais seleccionado, menos usual, e por construções sintácticas de influências clássicas.
Exemplo: "Tirando as expressões enfáticas esta mesma ordem já fora dada antes (...)".
Pontuação
A escrita de Saramago lembra, em parte, o estilo engenhoso do Barroco pois os ornamentos retóricos têm a função de captar, por meio do deleite, a atenção do leitor. Assim uma das características mais notórias de José Saramago é a utilização peculiar da pontuação.
- Principal marca: nas passagens do discurso directo:
- Eliminação do travessão e dos dois pontos;
- A substituição do ponto de interrogação e de outros sinais de pontuação pela vírgula;
- O início de cada fala apenas é assinalado pela maiúscula.
Exemplo:
"Por uma hora ficaram os dois sentados, sem falar. Apenas uma vez Baltasar se levantou para pôr alguma lenha na fogueira que esmorecia, e uma vez Blimunda espevitou o morrão da candeia que estava comendo a luz e então, sendo tanta a claridade, pôde Sete-Sóis dizer, Por que foi que perguntaste o meu nome, e Blimunda respondeu, Porque minha mãe o quis saber e queria que eu o soubesse, Como sabes, se com ela não pudeste falar, Sei que sei, não sei como sei, não faças perguntas a que não posso responder, faze como fizeste, vieste e não perguntaste porquê, E agora, Se não tens onde viver melhor, fica aqui, Hei-de ir para Mafra, tenho lá família, Mulher, Pais e uma irmã, Fica, enquanto não fores, será sempre tempo de partires, Por que queres tu que eu fique, Porque é preciso, Não é razão que me convença, Se não quiseres ficar, vai-te embora, não te posso obrigar, Não tenho forças que me levem daqui, deitaste-me um encanto, Não deitei tal, não disse uma palavra, não te toquei, Olhaste-me por dentro, Juro que nunca te olharei por dentro, Juras que não o farás e já o fizeste, Não sabes de que estás a falar, não te olhei por dentro, Se eu ficar, onde durmo, Comigo."
Recursos Estilisticos
Memorial do Convento está repleto de figuras de estilo, é um modo de enriquecer o seu discurso.
Ao longo desta obra poderemos encontrar vários exemplos de figuras de estilo, que enumeremos de seguida:
- Adjectivação Expressiva
- “a tripa empedernida”
- “lama aguada e pegajosa”
- Adjectivação múltipla
- “aqui vou blasfema, herética, temerária, amordaçada”.
- Dupla Adjectivação
- “mãozinha suada e fria”
- A boca (…) pequena e espremida”
- “correm águas abundantes e dulcíssimas para o futuro pomar e horta…”
- Polissíndeto:
- “Isto que aqui vês são as velhas que servem para cortar o vento e que se movem segundo as necessidades, e aqui é o leme com que se dirigirá a barca […] e este é o corpo do navio dos ares (…)”
- Anáfora, Repetição anafórica
- “(…) agora vai à casa do noviciado da companhia de Jesus, agora à igreja paroquial de S. Paulo, agora faz a novena de S. Francisco Xavier, agora visita a imagem de Nossa Senhora das Necessidades…”
- “(…) podes começar já pela primeira palavra, que é a Casa de Jerusalém onde Jesus Cristo morreu por todos nós, é o que dizem, e agora as duas palavras, que são as duas tábuas de Moisés onde Jesus Cristo pôs os pés, é o que dizem, e agora as três palavras, que são as três pessoas da Santíssima Trindade, é o que dizem, e agora as quatro palavras, que são os quatro evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus, é o que dizem, e agora as cinco palavras, que são as cinco chagas de Jesus Cristo, é o que dizem, e agora as seis palavras, que são os seis círios bentos que Jesus Cristo teve no seu nascimento, é o que dizem (…)”
- “Passam velozmente sobre as obras do convento, mas desta vez há quem os veja, gente que foge espavorida, gente que se ajoelha ao acaso e levanta as mãos implorativas de misericórdia, gente que atira pedras, o alvoroço toma conta de milhares de homens (…)
- “(…) ajoelhai, ajoelhai, pecadores, agora mesmo vos devíeis capar para não fornicardes mais, agora mesmo devíeis atar os queixos para não sujardes mais a vossa alma com a comilança e a bebedice, agora mesmo devíeis virar e despejar os vossos bolsos porque no paraíso não se requerem escudos (…)”
- Paralelismo de Construção e do Polissíndeto
- “(…) também há modos diferentes de pagar e cobrar o imposto, com o dinheiro do sangue e o sangue do dinheiro, mas há quem prefira a oração, é o caso da rainha, devota parideira que veio ao mundo só para isso, ao todo dará seis filhos, mas de preces contam-se por milhões, agora vai à casa do noviciado da Companhia de Jesus, agora à igreja paroquial de S. Paulo, agora faz a novena de S. Francisco Xavier, agora visita a imagem de Nossa Senhora das Necessidades, agora vai ao convento da Conceição de Marvila, e vai ao convento de S. Bento da Saúde, e vai visitar a imagem de Nossa Senhora da Luz, e vai à igreja do Corpo Santo, e vai à igreja de Nossa Senhora da Graça, e à igreja de S. Roque, e à igreja da Santíssima Trindade, e ao real convento da Madre de Deus, e visita a imagem de Nossa Senhora da Lembrança, e vai à igreja de S. Pedro de Alcântara, e à igreja de Nossa Senhora de Loreto, e ao convento do Bom Sucesso (…)”
- Quiasmo
- “todos têm uma parte de ciência e outra de mando, a ciência por causa do mando, o mando por causa da ciência”
- Enumeração
- “(…) já que não podemos falar-lhes das vidas, por tantas serem, ao menos deixemos os nomes escritos, é essa a nossa obrigação, só para isso escrevemos, torná-los imortais, pois aí ficam, se de nós depende, Alcino; Brás, Cristóvão, Daniel, Egas, Firmino, Geraldo, Horácio, Isidro, Juvino, Luís, Marcolino, Nicanor, Onofre, Paulo, Quitério, Rufino, Sebastião, Tadeu, Ubaldo, Xavier, Zacarias, uma letra de cada um para ficarem todos representados (…)”
- “vai escriturando no rol os bens e as riquezas, de Macau as sedas, os estofos, as porcelanas, os lacados, o chá, a pimenta, o cobre, o âmbar cinzento, o ouro.”
- “ Está o penitente diante da janela da amada, em baixo na rua, e ela olha-o dominante, talvez acompanhada de mãe ou prima, ou aia, ou tolerante avó, ou tia assadíssima”
- “Solene procissão de juízes, corregedores e meirinhos”
- “padres, confrarias e irmandades”
- “cordas, panos, arames, ferros confundidos”
- Antítese
- “Via-se o castelo lá no alto, as torres das igrejas dominando a confusão das casas baixas.”
- “ A obra é longa, a vida é curta”
- Eufemismo
- “Que ele próprio poderá amanhã fechar os olhos para todo o sempre”
- Comparação
- “O sol está pousado no horizonte do mar, como uma laranja na palma da mão”
- “passadas as roupas de mão em mão tão reverentemente como relíquias de santos que tivessem trespassado donzelas”
- “Empoleirado em andas como uma cegonha negra”
- “passando os braços como crucificados”
- “triste morte, foi um abalo muito grande, como um terramoto profundo que lhe tivesse rachado os alicerces”
Este último exemplo é uma comparação, mas também pode estar associada à hipérbole.
- Metáfora
- "O cântaro está à espera da fonte."
- “(…) para D. Maria Ana é que lhe vem chegando o tempo. A barriga não
aguenta crescer mais por muito que a pele estique, é um bojo enorme, uma nau da Índia.”
o “Mas esta cidade, mais que todas, é uma boca que mastiga de sobejo para um lado e de escasso para o outro (…)”
o “(…) olharem-se era a casa de ambos (…)”
o “(…) a procissão é uma serpente enorme que não cabe direita ao Rossio e por isso se vai curvando e recurvando”
- Hipérbole
- “é um mar de gente de um e outro lado, portugueses de cá, espanhóis de lá.”
- “à vista do mar de povo que enchia a praça (…)”
- Hipálage
- “Entrou no açougue que dava para a praça, a regalar a vista sôfrega nas
grandes peças de carne (…)”
- “de coração manso e alegre vontade”
- “nem Romeu que, descendo, colhe o debruçado beijo de Julieta”
- Sinestesia
- “puxa o cordão da sineta […] pairam cheiros diversos”
- Gradação
- “O homem primeiro tropeça, depois anda, depois corre, e um dia voará…”
- “A barriga não aguenta crescer mais por muito que a pele estique, é um bojo enorme, uma nau da Índia, uma frota do Brasil” (Aqui temos a gradação associada a hipérbole.)
- “Ah, gente pecadora, homens e mulheres que em danação teimais viver essas vossas transitórias vidas, fornicando, comendo, bebendo mais que a conta, faltando aos sacramentos e ao dízimo, que do inferno ousais falar com descaro e sem pavor…”
- Personificação
- “Fechou-se a noite por completo, a cidade dorme, e se não dorme calou-se.”
- “(…) bendita sejas tu, noite, que cobres e proteges o belo e o feio com a mesma indiferente capa, noite antiquíssima e idêntica, vem”
Neste caso trata-se de uma personificação associada a uma apóstrofe).
- Onomatopeioa
- “truca-truca, truca-truca, com o cinzel e a maceta.”
- “só os canteiros continuaram a bater a pedra, truca-truca, truca-truca”
- “taratatá-tá, sopra a corneta”
- “toque-toque-toque, lindo burriquito”
- “Êeeeeeiii-ô, se os bois puxarem mais de um lado que do outro, estamos mal aviados, Êeeeeeiii-ô, agora saiu o grito (…)”
- Sarcasmo
- "Porém, esta religião é de oratório mimoso, com anjos carnudos e santos
arrebatados, e muitas agitações de túnica, roliços braços, coxas adivinhadas, peitos que arredondam, revirações dos olhos, tanto está sofrendo quem goza como está gozando quem sofre, por isso é que não vão os caminhos dar todos a Roma, mas ao corpo."
- Ironia
- "(...) com o que pretende sua majestade pôr cobro ao escândalo de que são causa os freiráticos, nobres e não nobres, que frequentam as esposas do Senhor e as deixam grávidas no tempo de uma ave-maria, que o faça D. João V, só lhe fica bem, mas não um joão-qualquer ou um josé-ninguém."
- “se este rei não se acautela acaba santo”
- “(…) aí está uma estátua oferecida na palma da mão, um profeta de barriga para baixo, um santo que trocou os pés pela cabeça, mas nestas involuntárias irreverências ninguém repara, tanto mais que logo el-rei reconstitui a ordem e a solenidade que convém às coisas sagradas.”
- “Que caiba a culpa ao rei, nem pensar, primeiro porque a esterilidade não é mal dos homens, das mulheres sim, por isso são repudiadas tantas vezes, e segundo, material prova, se necessária ela fosse, porque abundam no reino bastardos da real semente e ainda agora a procissão vai na praça.”
- “(…) a mulher, entre duas igrejas, foi a encontrar-se com um homem, qual seja, e a criada que a guarda troca uma cumplicidade por outra, e ambas quando se reencontram diante do próximo altar, sabem que a quaresma ao existe e o mundo está felizmente louco desde que nasceu.”
- “Dizem que o reino anda mal governado, que nele está de menos a justiça, e não reparam que ela está como deve estar, com sua venda nos olhos, sua balança e sua espada, que mais queríamos nós.”
- “(…) passadas as roupas de mão em mão tão reverentemente como relíquias de santos que tivessem trespassado donzelas”
“Tornar estranha a língua que nos é familiar significa de certa forma reinventá-la, multiplicar os seus mundos, e fazer-nos participar pela leitura dessa reinvenção e dessa pluraçidade.”
Manuel Gusmão, in Jornal de Letras, 30 de Dezembro de 1998